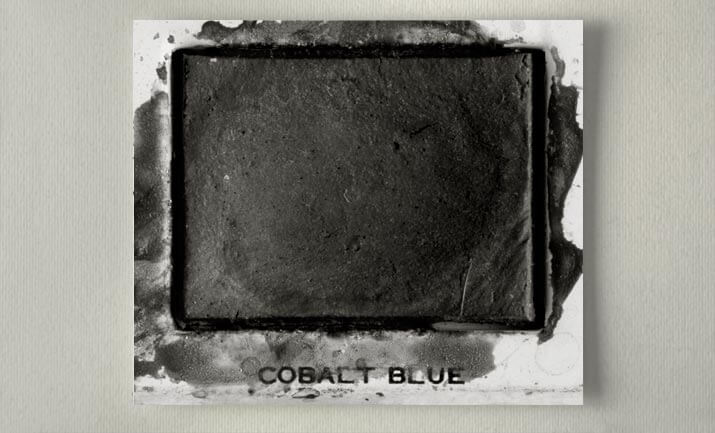
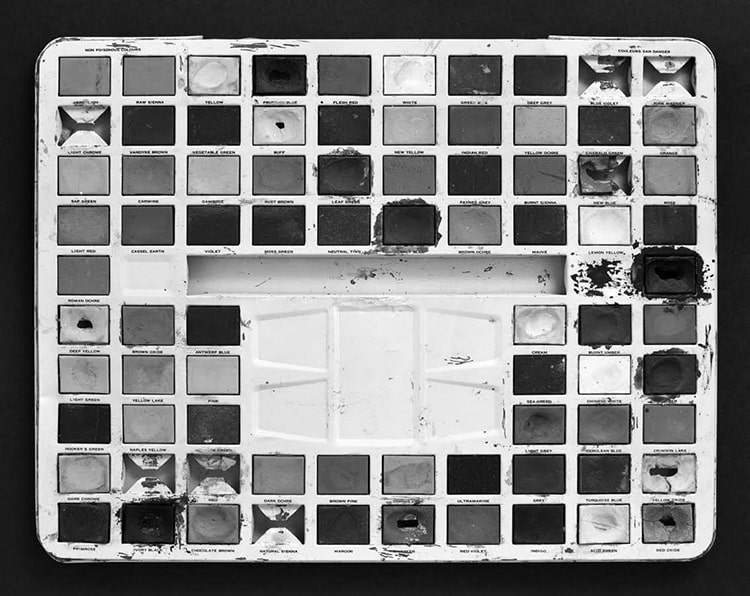
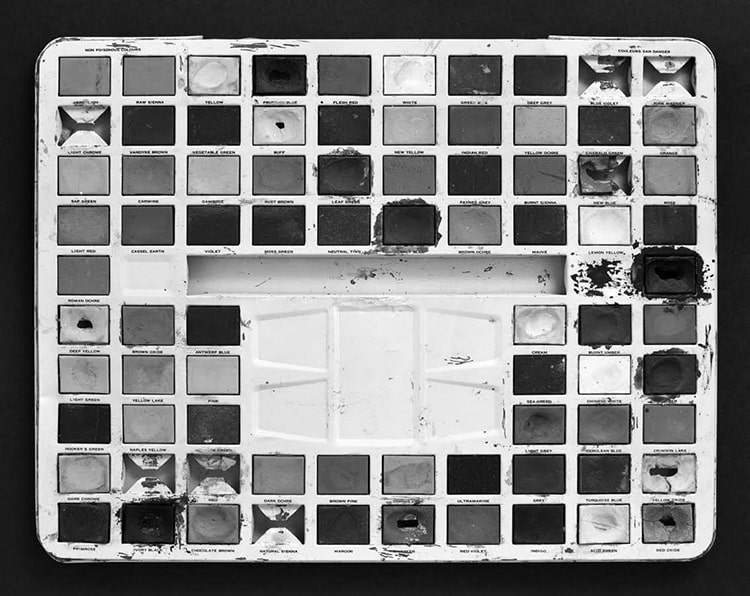
Apesar da distinta natureza das duas linguagens (a textual e a visual), a sua longa coexistência na nossa tradição cultural tem propiciado certa equiparação.
Somos capazes de ler e interpretar (muitas vezes de forma ingênua e equivocada) tanto um texto quanto uma imagem e esta habilidade nos faz esquecer as diferenças de cada uma dessas tecnologias de comunicação (e de controle).
O contato constante da palavra e da imagem tem feito com que destaquemos os seus pontos de união e desdenhemos tudo o que distancia e separa esses dois âmbitos.
A descrição verbal de uma paisagem nunca será equivalente à fotografia dessa paisagem e, ao contrário, a imagem de uma urna grega, por mais bela e verdadeira que seja, nunca poderá substituir o poema de John Keats Ode a uma urna grega.
Texto e imagem se complementam mas nunca são intercambiáveis. Nunca transmitem exatamente o mesmo significado.


Desde a sua aparição, a fotografia tem tido um papel secundário com relação à literatura; quase sempre, um papel servil com relação à palavra.
A fotografia era um bom meio para ilustrar o texto e muitos escritores recorreram ao seu uso para documentar as suas descrições. A fotografia era a firma notarial que outorgava veracidade a esse trabalhos.
Essa tradicional inter-relação entre palavra e imagem que relaciona o caráter subjetivo do texto e o suposto caráter objetivo da fotografia se mantêm na atualidade.
A linguagem fotojornalística está morta porque os editores gráficos dos principais meios da imprensa ainda se movem segundo os parâmetros dessa lógica caduca. As fotografias, por boas que sejam, acabam transformadas na cunha mambembe do bom poema.
A maioria das inter-relações entre texto e fotografia acaba numa cacofonia inútil. Basta parar para olhar a capa da maioria dos romances. Exemplo: título, Nuvens que passam, e sobre a sobrecapa a fotografia de um sereno céu com nuvens imóveis.
Hoje em dia temos consciência de que as fotografias nunca foram objetivas e que com relação à linguagem têm um significado muito fraco. As fotografias sempre demandam palavras para serem interpretadas e explicadas.
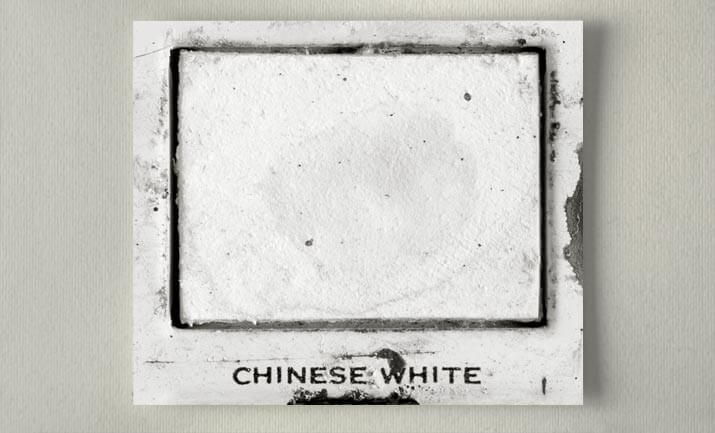
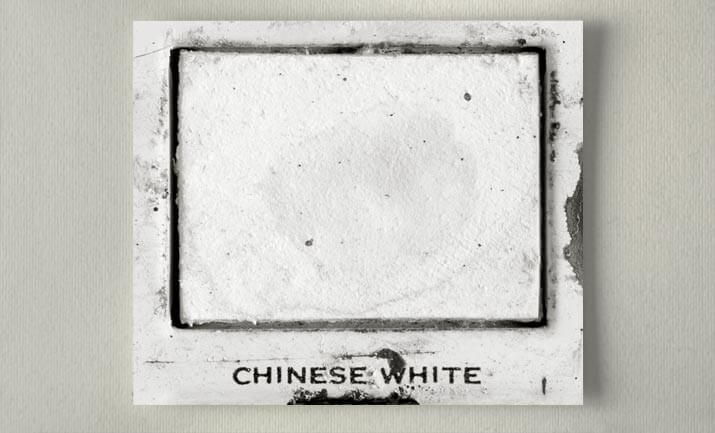
Lembro que nem sempre apreciei a obra de Sophie Calle. Considerava que era uma péssima escritora e uma fotógrafa deplorável. Suponho que as árvores me impediam de ver o bosque. Agora entendo que a soma das partes não faz o todo. Ou talvez sim.
É desde o mundo da arte conceitual, especialmente aquele que tem sido denominado linguístico-tautológico, onde melhor se evidenciam as tensões dessa estranha relação entre palavra e fotografia. Joseph Kosuth, com a sua instalação Uma e três cadeiras (1965) reflete desde três perspectivas distintas sobre a nossa aproximação com a realidade. Mediante a apresentação de um objeto (a cadeira), a sua representação (a fotografia da mesma cadeira), e o texto escrito (onde se pode ler a palavra que designa o objeto e a sua definição), distingue esse triplo código (referente, representação visual e linguagem).
Gosto das denominações texto escrito e texto visual porque relembram que ambas as linguagens devem ser lidas e interpretadas por um leitor ou – para usar a terminologia proposta por Vicente Luis Mora em um ensaio homônimo – um “leitoespectador”.
Se duas fotografias apresentadas juntas acabam se contaminando, criando uma terceira na mente do espectador, quando a palavra e a fotografia trabalham juntas, em uma autentica colaboração, criam um produto expressivo novo.
Na união desses dois meios expressivos se produz uma reação mútua que gera um terceiro discurso foto-textual.
No esplêndido livro de Alberto Prieto Imagen fotográfica y textualidad podemos ler, na seção dedicada aos foto-textos do escritor e fotógrafo Wright Morris: “A visão começa e termina na cabeça, e não na câmera, nem na realidade, nem no texto, que são simples mediadores. A alquimia interior é a que cria a realidade”.
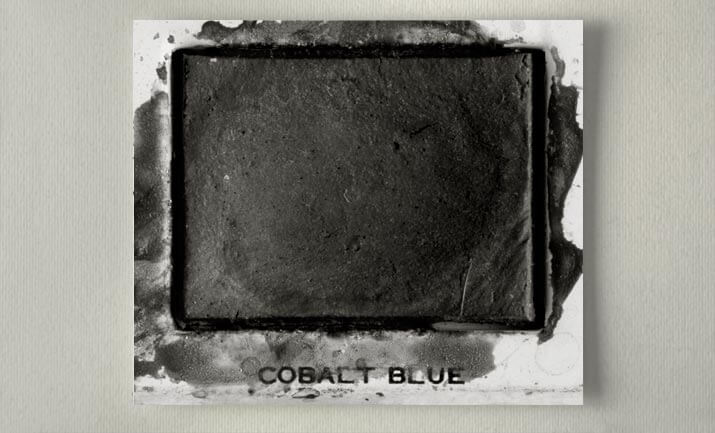
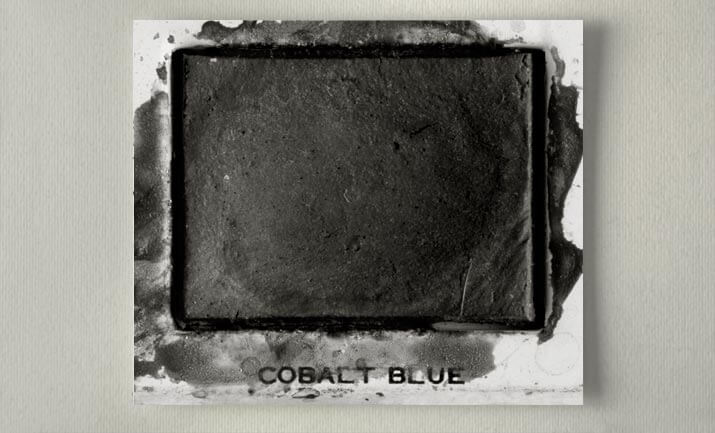
Lembro que, em um dado momento, foi moderno e vanguardista que os escritores intercalassem fotos de merda entre os seus textos.
Voltando ao livro El lectoespectador de Vicente Luis Mora, é interessante ressaltar que desde uma perspectiva literária aponta para ideias e reflexões que também estão se desenvolvendo no meio fotográfico. Sobretudo no que se refere à orbita pós-fotográfica de Joan Fontcuberta.
A linha central da argumentação de Mora é que: “vivemos em um tempo novo que requer ser repensado e no qual os escritores buscam novas formas de entroncar o literário e o tecnológico, e o encontram dentro de um novo tempo e um novo estilo (ou gênero) denominado pangéico”.
As obras literárias dessa Era Pangéica possuem um forte componente visual e nela o conceito tradicional de livro ficou obsoleto.
“Para muitos escritores a página se tornou uma tela desenhável”. A obra não se limita ao texto, mas o design e as imagens possuem a mesma importância. A estendida crença de que textos e imagens se opunham ficou para trás. Não há artes puramente visuais ou verbais, os meios são híbridos. As narrativas são transmediáticas e a poesia já não se lê, visualiza-se.
O livro pangéico se converte em uma exposição pois o conceito de leitor já não é suficiente (daí o advento do “leitoespectador”) e, consequentemente, já não basta ao escritor escrever.
O epítome dessa nova sensibilidade é a obra de Danielewski House of leaves que segundo o crítico e escritor Juan Francisco Ferré em seu livro Mímesis y Simulacro é: “um exemplo recente e assombroso do cruzamento entre a metaliteratura e a narrativa da imagem, de imersão no mundo da imagem e da geração de um simulacro literário e audiovisual absoluto”.


Relembremos as teses de Fontcuberta segundo as quais dentro da nova ordem conceitual pós-fotográfica, marcada pelo uso das novas tecnologias e conceitos como deslizamento (Lipovetsky) ou liquidez (Bauman), já não basta ao fotógrafo tirar fotos, inclusive já não é importante que seja o autor das mesmas, como deixa claro no seu último ensaio A fúria das imagens:
“hoje entendemos que o importante não é quem aperta o obturador da câmera, mas quem faz o resto: quem põe o conceito e gere a vida da imagem”.
Lembro que um dia começamos a dizer fotolivro em vez de libro de fotografias.
Os debates teóricos são muito interessantes mas não quero concluir esse apressado artigo sem antes citar três felizes exemplos dessa prática foto-textual na recente fotografia espanhola centrada no suporte livro.
En todas las cosas del mundo Ricky Dávila intercala um amplo corpo de fotografias em preto e branco que desvelam um mundo pessoal e intimo com poemas de criação própria. Os poemas se apresentam fotografados como um signo visual a mais, texturizados com capas de fita adesiva e anotações manuscritas. Funcionam como um texto literário e como texto visual.
Outro belo exemplo dessa prática é o comovedor L’inassolible, de Roger Guaus, no qual expande os autênticos limites do diário pessoal ao utilizar o arquivo de álbum familiar e um texto deixado escrito pelo pai, Reflexões de um pai de cinquenta anos.
Em Okuhe de Daniel S. Álvarez, com um forte influxo do diário fotográfico praticado nos anos 70 no Japão, introduz pequenos textos escritos em japonês, às vezes sobre a própria fotografia, ou como margem textual que ordena as sequências internas do livro.
Os traços dos kanji e a escritura hiragana ampliam a dicotomia significado/significante da palavra (Saussure) aos olhos do “leitoespectador” ocidental.
A palavra se reduz ao puramente visual, a parte gráfica de significado aparece sem nenhuma evidência de conteúdo fônico. O significado só se alcança em uma leitura externa ao próprio texto quando se busca a tradução do escrito. O autor tem a delicadeza de inserir uma folha com a tradução dos seus textos.
Lembro o fotógrafo Juan Valbuena me explicando a existência de um livro titulado The Lost Pictures no qual o autor, Alexander Honory, descreve as fotos que nunca chegou a tirar. Algumas dessas fotos são tão bonitas que parecem haikus.
[1]




